Era um sábado à tarde, 16 de abril, no final de semana da Páscoa de 2022, quando Douglas Utescher (coproprietário da comic shop Ugra Press), Edson Bortolotte (quadrinista e fotógrafo) e eu visitamos o Copan, no centro de São Paulo. O objetivo era entrevistar um ilustre morador do prédio, que recebia uma amiga igualmente ilustre: Luiz Gê e Laerte Coutinho. Juntas, essas duas figuras incontornáveis do quadrinho brasileiro revolucionaram a HQ nacional, dando o pontapé inicial na produção de gibis independentes em nosso país com a criação da revista Balão, em 1972.
A entrevista seria veiculada na terceira edição da revista Banda. A publicação, fundada pelo jornalista Gustavo Nogueira, contava comigo e Douglas no time (além de Carlos Neto, do finado canal Papo Zine, que não estava mais no projeto à época). O tema desse terceiro número seria justamente “quadrinhos independentes”, uma forma de celebrar o 50º aniversário da estreia da Balão, comemorado em novembro daquele ano.
Pois bem: a Banda não foi pra frente (o financiamento coletivo praquela edição não atingiu a meta e, após isso, a equipe ficou impossibilitada de tocar a produção por inúmeros motivos), mas a entrevista não poderia ficar guardada, perdida para sempre em pastas de computadores. É um documento histórico de nossa história, narrado por aqueles que a escreveram.
Desta forma, Gustavo, Douglas e eu decidimos publicar o material aqui n’O Quadro e o Risco – sim, foi de propósito fazer isso em novembro, mês do nascimento da Balão. E veja como a vida é curiosa: no começo do mês, a Ugra organizou em São Paulo a feira Ogra, reunindo 120 artistas e editoras independentes de 13 Estados diferentes. Eventos desse tipo (como também é o FIQ, a Poc Con, a Semana do Quadrinho Nacional de Manaus e tantos outros) são viáveis atualmente – e isso começou lá atrás, quando Laerte e Gê, então amigos de faculdade, resolveram fazer algo que nem existia no Brasil. No auge dos setenta e tantos anos de idade, Laerte e Gê ainda têm muito a dizer. Ouçamos, então.
Fotos: Edson Bortolotte
Tratamento das imagens: Filipe Lima

Thiago Borges: Como vocês se conheceram? Já faziam algo relacionado a quadrinhos antes disso?
Laerte Coutinho: Foi em uma semana de editoração, em 1970 ou 71. O tema do evento era quadrinhos. E numa das plenárias em que se discutiu isso, acho que o Gê comentou alguma coisa e a gente se conheceu ali.
Thiago: Vocês tinham amigos em comum?
Laerte: Não, não tínhamos amigos em comum. Tínhamos?
Luiz Gê: Não, não. Foi uma coisa que tava meio no ar, isso de querer publicar quadrinhos.
Laerte: Sim, mas quem entrou no assunto? Francamente, eu não me lembro de detalhes da conversa. Mas a gente se encontrou e uma constatação da semana de editoração foi que não tinha onde publicar. O “famoso mercado de quadrinhos” era uma coisa que pairava lá nas alturas, a Abril, não sei o quê…
Acho que o Gê tava mais perto desse “querer publicar” do que eu. Eu sinto isso pelo o que leio das suas entrevistas, desse último livro que você publicou [Fronteira Híbrida, editora MMarte]. Você já tava com uma ideia muito clara do que era quadrinho, de trabalhar com quadrinho e do que você queria dentro dos quadrinhos.
Gê: Vendo em perspectiva, sim, mas não sei direito… Tem uma coisa que eu fiquei pensando outro dia: nunca veio na minha cabeça o negócio do underground. Como era uma coisa de “vamos publicar”, “fazer uma publicação”, o foco era em como fazer. E a gente chegou naquele formato, o mais barato possível. Pegar um A4, dobrar no meio e fazer impressão…
Laerte: Plastiplate!
Gê: É, tinha que fazer o plastiplate.

Douglas Utescher: O que é plastiplate?
Gê: Era uma chapa, tipo fotolito. Quer dizer, nem tinha fotolito, queimava essa chapa direto. Era muito ruim.
Laerte: Era ruim e barato [risos].
Gê: E a gente tava fazendo algo mais político do que o chamado underground, que era mais voltado aos costumes. A gente tava dentro da ditadura e isso pegava mais.
Douglas: E esse contato com o underground, provavelmente era o movimento americano, da geração Robert Crumb?
Laerte: Pra mim foi com Bondinho, que já era publicado naquela época.
Gê: A questão é a seguinte: tava saindo muita coisa sobre quadrinho. De tudo, desde coisa antiga como Spirit, por exemplo, de tudo quanto é época. E tavam acontecendo coisas no mundo: nos Estados Unidos era esse underground; na Europa, a coisa ligada a sexo, o quadrinho adulto.
Laerte: Eu me lembro da Pravda [Pravda la Survireuse, de Guy Peellaert].
Gê: E tinha um monte de gente nos jornais escrevendo sobre isso. Eu já tinha publicado na Folha de Londrina umas histórias de uma página: eu ilustrava uma poesia e saía uma página de quadrinho. Fora isso, tinha publicado um pouco no jornal do grêmio estudantil, mas eram umas experiências.
Então, eu queria mexer com desenho, quadrinho e tal, e essas publicações foram importantes por esse ponto: você começa a produzir e a achar os caminhos, a experimentar. Tanto a Balão como a Circo foram assim pra mim. Mas o negócio de publicar era importante, porque a gente não ficava só desenhando ou guardando na gaveta. A gente passava por todo o processo e depois tinha o feedback das pessoas. Isso é muito importante pra que você não fique, sei lá, viajando na maionese, perdido na coisa. Com a Balão, começamos a dialogar com todo mundo que era jovem naquele momento. Foi uma coisa que ultrapassou até o número de exemplares. Por isso, esse fazer contemplava um processo mais completo.
Douglas: O que estava acontecendo na produção do quadrinho brasileiro nessa época?
Laerte: Eu acho que os quadrinhos de terror já tinham parado, os do Shimamoto, aquela produção toda.
Gê: Como sempre, tinha o Mauricio de Sousa, mas a gente nem pensava nisso. Acho que não ficou nenhuma referência de roteirista ou de desenho dessas coisas, pelo menos não pra mim.
Laerte: Das pessoas que publicavam em jornal, realmente parecia uma coisa importada.

Thiago: Quando vocês começaram a Balão, existia esse desejo de criar um espaço para o gibi autoral? Vocês pensavam em alguma publicação como referência?
Gê: Acho que foi do zero mesmo.
Laerte: Teve uma linha que foi definida pelo próprio modo de fazer a Balão, um modo coletivo, todo mundo participando. A gente decidia quem faria a capa meio na conversa. E esse processo estabeleceu algumas condutas: por exemplo, lá pela quarta Balão surgiu a ideia de fazer um tema, algo que orientasse aquele número – acho que foi sobre a América Latina.
Eu me lembro de que durante a vida da Balão, a Folha de S.Paulo lançou uma proposta de um caderno de quadrinhos, lembra? Em cores, acho.
Gê: Pois é, eu nunca consegui fazer porra nenhuma pra lá.
Laerte: O Mauricio Moura fez algo, acho que o Sian [Roberto Angelo Sian] também participou… Eu sei que eu levei uma história pra mostrar lá que era pornográfica [risos]. O cara falou: “Quer publicar isso?”. Não lembro o que respondi, mas não deve ter sido uma coisa muito convincente.
Douglas: Nesse momento, existia uma movimentação muito forte da chamada “imprensa nanica”. Vocês tinham contato com essas publicações?
Gê: Já tinha O Pasquim, mas a imprensa alternativa vai surgir um pouco depois da Balão. A gente vai pra ela depois da Balão.
Laerte: Bondinho não existia antes?
Gê: Sim, mas nem era considerado. Era um jornal que saía no Pão de Açúcar. Eu via como uma coisa meio empresarial, apesar de ser bacana.
Laerte: E era quase só de autores estrangeiros, que eu me lembre.
Gê: Ah, não, essa aí era a Grilo, né.
Laerte: Grilo veio do Bondinho, era isso?
Gê: Tinha uma ligação. Começaram a fazer quadrinho no Bondinho, mas tiraram.
Mas uma coisa importante no processo da Balão eram as reuniões, sabe? Todo mundo se reunia semanalmente e mostrava coisas, trazia livro que tinha comprado e tal. Isso pra mim foi importante pra caramba. Pois esse negócio de desenhar na escola sempre foi um bicho estranho, uma coisa folclórica, “olha o cara que desenha”… É algo muito solitário e, de repente, tinha um monte de gente que desenhava junto. Eu ia até emocionado pra lá.
Tinha ainda a possibilidade de você ver seu trabalho através dos olhos das outras pessoas e detectar, por exemplo, que o desenho tava parecendo com o de não sei quem. Tinha uma consciência da busca pela originalidade. Eu vejo muitos caras no Brasil que se tornam grandes desenhistas, só que você percebe nitidamente a influência dele, e ele fica naquela linha e não sai.
Na Balão tinha essa preocupação: dá pra ver a evolução dos desenhistas. De onde o cara sai e de repente no outro número já tá diferente. Em geral, o pessoal tinha essa busca pelo original.

Douglas: E como se dava essa dinâmica interna na faculdade? A coordenação interferia em algo no trabalho de vocês?
Gê: No começo, a gente passou pela secretaria da FAU, que até deu uma censurada… Acho que deve ter sido o único caso, uma questão de palavrão [risos]. Mas, aí, a gente pegou o caminho das pedras, ficou amigo dos gráficos. Então, era só combinar com eles. Tudo era feito à noite, muitas vezes a gente ficava até tarde lá. E a número 1 tem aquela foto de todos os que participaram: Laerte; a ex-mulher dela, a Lúcia; o Fausto Macedo; o Kiko, que aparece atrás; eu… Não lembro se tinha mais alguém ali, mas também estavam os dois gráficos da FAU, o Santo e o Adolfo.
Laerte: No início, a gente usou tanto a gráfica da ECA, que era uma bosta, como a da Poli também. Lembro de ter ido lá na Avenida Tiradentes, uma vez.
Gê: Pois é, variou a coisa. Só que aí foi foda, bicho… Nessa da ECA, a impressão fodeu com a minha história e com a de mais gente, ficou horrível. E teve um número inteiro perdido, lembra disso?
Laerte: Não. Qual?
Gê: Teve um número que foi perdido.
Laerte: Como assim? [risos]
Gê: Numa dessas porras [risos]. Eu tinha feito a capa, descobri o vegetal do desenho outro dia.
Laerte: Gente… [gargalhadas] Mas a gente perdeu a impressão e fez de novo?
Gê: Não! Perdeu tudo… O que acontecia também: a gente tinha de preparar o negócio pra chapa do plastiplate, e o xerox tinha acabado de aparecer. E a gente pegava as histórias e reduzia no xerox, só que era uma merda porque não dava o preto chapado, saca? Só dava as linhas. Aí, a gente ia para as reuniões e fazia uma espécie de cadeia de montagem: todo mundo pegava o original de todo mundo e ficava “chapando” a parte falhada, pintava de preto. E depois montava no tamanho certinho pra queimar a chapa e imprimir. Eu acho que nós perdemos esse troço aí…
Laerte: Nossa, eu não lembro disso…

Thiago: Em relação a essas funções editoriais da revista – cuidar da diagramação, levar para a pré-impressão, retirar na gráfica, distribuir etc. –, isso era dividido de forma específica ou todos faziam tudo?
Gê: Variava pra caramba de número pra número. Tinha número que você participava nele inteiro, tinha número que não, eram outros caras. Na FAU, a questão da gráfica era mais direta, você só ia lá e mandava bala. E imprimimos em vários lugares diferentes – essa da Poli eu nem lembrava. Era um puta trabalho, então ninguém aguentava participar de todas as edições, ainda mais fazendo faculdade.
Laerte: Acho que nessa da Poli, o Flávio Del Carlo [ilustrador, animador e diretor de cinema] estava. E ele participava da Boca também, que veio depois. Era revista de escola também, né?
Gê: Da FAAP.
Douglas: De escola, era a Papagaio, não? Do Colégio Equipe.
Laerte: Sim, mas essa foi bem depois.
Gê: O Flávio e o Inácio [Inácio Zatz, diretor de cinema e músico] começaram a fazer coisa pra Balão, só que eles nem eram de faculdade, ainda tavam no colegial.
Laerte: Eu conheci os dois na FAAP, mas num curso livre, não era faculdade.
Gê: Antes de entrar na faculdade eu fiz isso também, acho que no segundo colegial. Você tava de tarde e eu ia de manhã… Tinha umas pastas que ficavam na classe e dava pra ver os desenhos dos outros.
Laerte: Então, essa parte da produção da Balão variava de número pra número. De modo geral, todo mundo vendia. Ia pra bares ou dentro da USP mesmo, vendendo de mão em mão.
Gê: Puta merda, era um saco [risos]. Tomava “não” que não acabava mais.
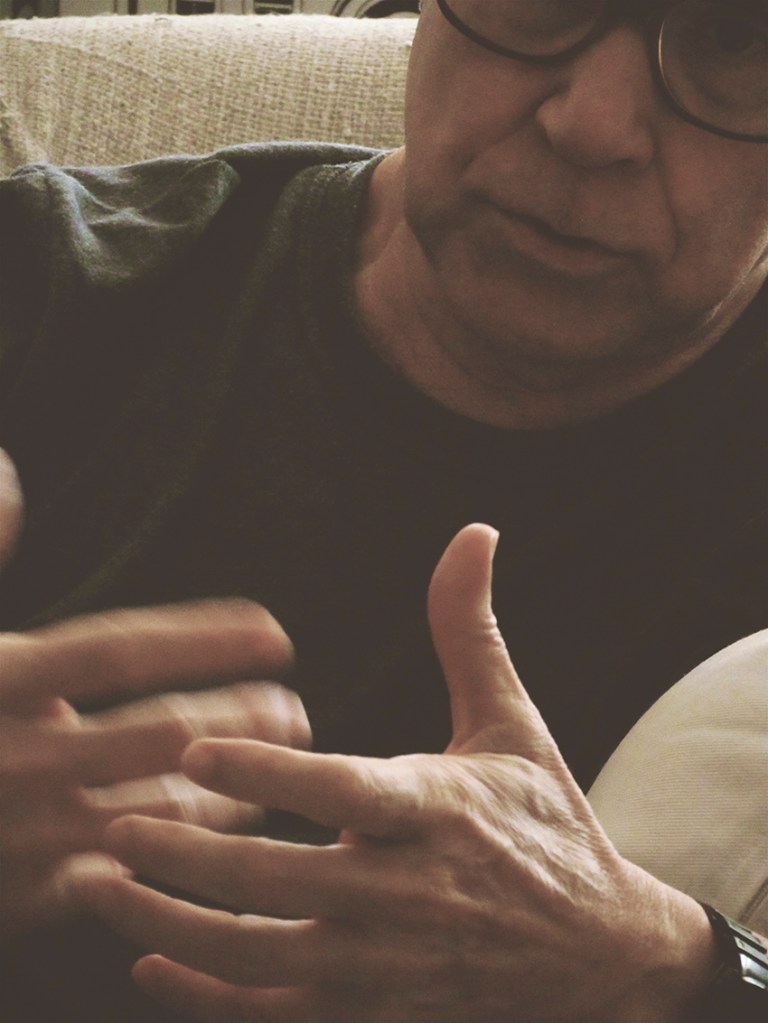
Thiago: Como era a aceitação dos estudantes em relação à revista? Eles se interessavam em ler as coisas que vocês produziam ou era mais fácil vender a revista fora desse círculo universitário?
Gê: Lembro que a gente ia em tudo quanto era lugar. Na USP, na FAAP… Mas depois que começaram a sair matérias sobre a Balão, ficou mais fácil. E também pintou a Look, uma livraria onde todas as agências de publicidade compravam revistas estrangeiras.
Laerte: Onde era mesmo?
Gê: Era aqui na Zarvos, na São Luís com a Consolação, naquela galeria, lembra? O cara tava lá até há pouco tempo, do mesmo jeito, e tinha muito livro daquela época [risos]. No último número da revista, eu fiz uma propagandazinha da Look na última página. Lá vendia bastante.
Douglas: Teve esse momento, então, no qual vocês conseguiram chamar a atenção das pessoas de fora do campus?
Gê: Foi meio rápido até… Teve uma matéria que saiu n’O Pasquim, colocaram a tua página, lembra, Laerte? O Ziraldo tinha feito uma matéria sobre revista underground, alternativa – essas que a gente tava comentando que duraram um, dois números. Aí, depois disso a Balão deve ter chegado nele, e ele escreveu: “Pô, eu deixei de comentar na última matéria sobre a mais legal de todas, a Balão“. O Pasquim tinha uma puta de uma repercussão, foi uma coisa grande. Mas quando a gente publicava sempre tinha teórico, crítico e o caramba falando a respeito.
Douglas: E tinha venda pelo correio? Pois alguém via uma matéria dessas e podia se interessar, ir atrás…
Gê: Não, nem imaginava um troço desses [risos].
Thiago: Com essa repercussão que ganhava forma, ficava mais fácil de conseguir colaboradores? Como vocês chegavam em artistas que queriam publicar histórias na revista?
Laerte: Tô tentando lembrar como a gente conheceu o Angeli… Porque foi por meio da Balão. O Angeli era da Casa Verde – e o Alcy [Alcy Linares] era de lá também. O Alcy fez arquitetura na Mackenzie e acho que ele conhecia os irmãos Caruso também.
Gê: É, conhecia os Caruso, e eles levaram o Alcy pra reunião. Aconteceu o seguinte: com o primeiro número publicado, a gente saiu atrás de umas pessoas. Na FAU, deram o toque de que o Chico e o Paulo tavam super a fim. Eu me lembro de que fomos aonde eles moravam, e eles deram o toque de mais gente, como o Sininho. Era uma coisa que virou um núcleo mesmo: quem tava a fim começou a ir. E a gente divulgava os dias de reunião, hora e tal. Então, veio muita gente. Teve muita gente da Mackenzie, por exemplo.
Laerte: Mauricio Moura era Mackenzie também. Depois veio o Gus [Guido Stolfi], que tava em algum dos primeiros números.
Gê: O Guido foi um dos grandes caras da Balão. Bem cerebral. Engenheiro, né? A engenharia eletrônica ganhou um grande professor, mas os quadrinhos perderam um grande autor.
Laerte: Ele tinha um desenho bem especial. Lembrava um pouco o Crumb pela quantidade de traços. E os roteiros eram pirados.


Douglas: Existia um espaço físico cedido pela faculdade pra fazer a revista?
Gê: Tinha sim. A gente fez uma época no próprio grêmio estudantil. Depois, passou pra um lugar que hoje em dia nem teria mais. Era uma sala bem na quina na FAU, virada pro fundão, com umas mesonas. Era perfeito. A gente ficava lá, das sete até onze da noite, toda semana.
Laerte: Você acha que não existe mais isso hoje?
Gê: Eles ocuparam. Não sei se é biblioteca, algo assim… E tinha uma coisa ali de fundação histórica da construção, deve ter virado algum departamento de não sei o quê.
Douglas: Como era a questão dos prazos pra fechar a revista e imprimir?
Laerte: A gente tava sempre trazendo trabalhos. Então, ia fechando, não tinha algo concreto.
Gê: De repente, alguém trazia uma história quase finalizada. Aí, dava um negócio e todo mundo começava a trabalhar.
Laerte: “Vamos fechar, vamos fechar” [risos].
Gê: Sempre ficavam uns períodos em que só tinha reunião, discutindo um monte de coisa, mostrando livro um pro outro, trocando figurinha. Puta, que coisa legal era aquilo…
Thiago: Isso dá pra perceber na quantidade de páginas das edições, que variava bastante.
Gê: Dependia de quanto material tinha, mas era difícil cortar alguém.
Laerte: Lembro que a gente fez um número, o “5 e meio”, pra levar em um evento de quadrinhos. Uma espécie de almanaque, coletânea.
Gê: No fechamento desse eu não tava, mas colocaram duas histórias minhas. E eu ficava meio assim de usarem coisas que eu não achava muito boas, com desenho ruim e tal. Por outro lado, tinha a parte legal de participar junto do pessoal.

Douglas: Vocês tinham acabado de chegar à faculdade ou já eram veteranos quando começaram a Balão?
Laerte: Eu entrei em 1969, mas nunca me considerei veterano [risos]. E nunca terminei a escola também.
Gê: Você entrou em 69?
Laerte: Entrei. Foi fácil [risos]. Sério, o vestibular mais ridículo que já vi. Faziam perguntas assim: “A moela da galinha serve para: A) triturar; B) moer” [gargalhadas]. Era assim. Não fiz cursinho, fiz porra nenhuma.
Gê: E tinha de fazer algum exame de música?
Laerte: Não tinha, porque o primeiro ano era o básico, nem tinha música ainda.
Gê: Mas você fazia música quando a gente se conheceu…
Laerte: Sim, fiz porque repeti o básico [risos]. Mas eu não me formei em nada.
Douglas: No final da Balão, em 1975, você não estava mais na USP, então?
Laerte: Acho que tinha voltado pra fazer jornalismo, porque larguei a música pra começar a publicar em revistas, como a Placar. Daí, eu resolvi entrar de novo pra ter um diploma. Minha ideia era só ter o diploma pra pegar cadeia especial se fosse preso [risos]. De qualquer jeito, eu não terminei.
Thiago: Quem financiava a revista? A faculdade dava algum suporte pra pagar os gastos?
Laerte: Grana? Era a gente mesmo. A venda de uma financiava a próxima. Não sei se teve aporte desse tipo.
Douglas: Então, vocês bancaram a primeira edição?
Laerte: Não, teve um negócio de consignação, de a gente vender a revista pra pagar. Não pagávamos no ato.
Gê: Era pagar a gráfica só.
Laerte: Mil exemplares, a cinco cruzeiros cada um? [risos] Nem lembro da moeda agora. Eu sei que dava até com alguma folga se vendesse tudo. E a gente não vendia tudo, era uma parte, mas o suficiente pra pagar as gráficas. A tiragem começou com mil, depois passou pra dois mil.
Gê: A repercussão era proporcionalmente grande pra isso. Agora, o pior era essa coisa de chegar na impressão e não ter ficado legal. Acho que no número 9, em que todas as histórias ficaram legais, bem impressas, a gente pagou pra uma gráfica fora da universidade.

Thiago: Vocês faziam esses testes em gráficas pra ver em qual o trabalho ficava melhor?
Laerte: Com a gráfica da FAU, a gente chegou à perfeição, levando em conta o custo-benefício, né? Um resultado satisfatório, bom preço e gráficos amigos.
Gê: Sei lá, acho que a gente deveria ter experimentado mais, brincado mais graficamente. Mas realmente era complicado ter um investimento de tempo nisso.
Laerte: Lembro que uma vez a gente foi na gráfica da FAU e a Eva Furnari [escritora e ilustradora] tava lá fazendo um livro dela.
Gê: Depois da gente, começou a ter coisas assim. Meu TCC justamente se chamava “Técnicas de impressão de pequena tiragem e baixo custo”. Eu listava uma porrada de processo gráfico. Pensei a vida inteira em brincar com aquilo tudo. No fim, nem fiz tanta coisa assim.
Era uma coisa bem política, né? Eu me lembro de falar em “politizar a tecnologia”. Aí, quando tava fazendo doutorado, isso já era 2000 e pouco, conheci os livros daquele cara que escreve sobre internet e filosofia, um francês. E nas últimas páginas de um desses livros, ele fala: “politizar a tecnologia”. Na época, lá atrás, eu sabia que seria criticado politicamente por estar falando isso. Acho que a gente tinha um projeto, e uma certa ilusão, de fazer uma revolução. E hoje em dia eu voltei com essa ideia [risos].
Douglas: Aproveitando a questão política, o peso do clima de ditadura influenciava o processo de fazer a revista? Existia uma espécie de autocensura, no sentido de não citar algum tema pra evitar problemas?
Laerte: Eu fiquei encanada em dois momentos, com histórias do Paulo Caruso. Ele fez uma HQ em que uma mulher era abduzida por um disco voador e o alienígena era um cafajeste, queria comer ela. E o cara joga a moça lá de cima e ela cai gritando “seu filho da puta!”, meio pelada [risos]. E teve outra com Deus fumando maconha. Eu ficava pensando que a gente não devia publicar aquilo, mas não me lembro de ter tomado algum tipo de atitude concreta pra isso.
Gê: A ditadura pesava pra caralho. Você tinha paranoia das coisas o tempo inteiro. Mas ao mesmo tempo foi um trunfo da Balão ter mais liberdade que a grande imprensa. Por exemplo, quando teve o golpe no Chile, em setembro de 1973. Em julho, eu tinha estado no Peru, subi pela Bolívia, fui pelo “trem da morte” e tal… Puta negócio legal pra caralho. E tinha muito brasileiro também, você ia encontrando as pessoas, depois se separava, encontrava de novo. Em Lima, conheci um guerrilheiro brasileiro que tinha fugido do nosso país. Fiquei dias conversando com o cara, sabe? E no Brasil, você não podia dar os toques direito sobre esses assuntos. Tanto é que ficou famosa uma capa do Alberto Dines no Jornal do Brasil, com uma manchete toda em caixa alta, falando do golpe chileno, mas não mostrando imagem. Então, quando sai a nossa revista com uma história sobre esse assunto, teve uma repercussão. Essas coisas davam gancho pra grande imprensa falar da gente.
Laerte: Nessa época começaram a aparecer os salões de humor, como o de Piracicaba. Acho que iniciativas como a Balão se beneficiavam muito dos encontros físicos entre as pessoas – porque não tinha internet, as comunicações eram meio precárias. Então, um evento que nem o Salão de Piracicaba era muito importante e funcionava também como válvula pra escapar da censura. A censura ia mais em cima dos grandes veículos, da televisão, dos jornalões. Publicações como a nossa corriam por fora.


Douglas: Na esteira da Balão, surgiram outras revistas no mesmo estilo. Vocês chegaram a ser próximos de quem as produzia?
Gê: Teve uma época em que eu comecei até a me segurar porque queria fazer uma foto da Balão e dos filhos dela [risos].
Laerte: Tinha a Esperança no Porvir, por exemplo.
Gê: Mas ficou em um número só. Eu acho que um dos caras era filho de dono de gráfica, alguma coisa assim, e aí era uma revista bem legalzona no formato. Eu pensava que aquilo, sim, seria legal de fazer. Tinha ainda a Vapor, de Belo Horizonte, mas eram coisas meio de grêmio.
Laerte: Em relação ao contato, era bem pouco, a gente acabava se cruzando nos salões. Não era muito comum.
Thiago: A Balão número 4 tem um editorial no formato de HQ que explica a missão da revista e a importância de fazer quadrinhos naquela época – e outras edições também ganhavam textos nesse sentido. Vocês tinham a noção de que estavam abrindo um novo campo para a produção de quadrinhos no Brasil?
Gê: A gente tinha consciência de que era um canal, abrindo a possibilidade de reunir pessoas a fim. A gente sabia que era uma coisa rara na época. E a Balão é diferente das outras revistas, pois não ficou em um número só, teve uma duração maior. O número de participantes, a repercussão, tudo foi relativamente grande.
Eu queria que a gente passasse a fazer alguma coisa pra banca. E aí surgiu uma discussão se deixaria o mesmo nome ou não, e meio que prevaleceu a ideia de que a Balão tinha sido um movimento, uma coisa única, e a gente tentaria outro nome. Não sei se isso foi legal [risos].
Nesse momento, quem era humorista, cartunista, como o Paulo e o Chico, tinha de certa forma um mercado a seguir, havia caminhos pra isso. Mas eu gostava de quadrinho de página, de revista. Então, a gente tentou, até partilhou um estúdio por certo tempo, só que depois não conseguiu fazer esse negócio andar.
Eu ainda continuei, fiz alguns projetos, tava sempre publicando até pra mostrar para a imprensa que se podia utilizar quadrinho de várias maneiras. E o que saiu disso foram minhas conversas com o Toninho Mendes – eu sempre batendo na tecla pra fazer revista, fazer revista – e finalmente surgiu a Circo.
Thiago: Pra finalizar: o que a Balão representou para a carreira de vocês?
Laerte: Foi onde entendi como se faz uma revista. Como é, como nasce, desde a mesa até o processo gráfico. Isso pra mim foi fundamental, saber o que eu tava fazendo. A partir dali, em qualquer editora ou emprego que eu tivesse, eu seria capaz de ter uma noção do que precisava ser feito. Pra mim, foi fundamental.
Gê: Foi exatamente isso que você falou, e também foi um trampolim para outras publicações. A Balão lançou mesmo a gente. Agora, pode ser que… Sei lá, não sei se valeu a pena [risos]. Pra alguns talvez tenha sido um descaminho [risos].

QR


Deixar mensagem para Edson Bortolotte Cancelar resposta